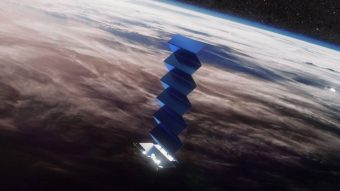O que a tecnologia pode fazer para evitar testes em animais?

Nessa semana, o país passou a prestar mais atenção em testes feitos em animais, uma prática muito antiga, mas que vem ganhando cada vez mais rejeição ao passar dos anos. Não só cães, mas ratos, coelhos e diversos primatas são utilizados em pesquisas para remédios e cosméticos. Desde o fim dos anos 50, porém, uma dupla de cientistas ingleses já dizia que, no futuro, o uso de animais não aconteceria. Hoje, mais de cinquenta anos depois, a tecnologia já permite essa substituição?
Há quem defenda que sim e há quem diga que ainda não.
Esse assunto ficou em alta nesta sexta-feira por causa da denúncia e libertação dos 178 beagles que estavam no Instituto Royal, um laboratório que fazia testes com esses animais. Ele é credenciado junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea) órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e vale lembrar que, no Brasil, a Lei Nº 6.638, de 8 de maio de 1979, permite a vivissecção (ato de dissecar um animal vivo) em território nacional.
Sendo assim, os locais habilitados, como o Instituto Royal, não estão cometendo crime algum – a não ser, é claro, se estiverem maltratando os animais, um dos pontos comentados pelos ativistas que levaram os cachorros que estavam no laboratório. O Ministério Público de São Roque (SP) abriu uma investigação em 2012, mas ela ainda não foi concluída e, depois de duas visitas, “nenhuma irregularidade foi encontrada”, segundo o promotor Wilson Velasco Júnior contou ao G1. Sílvia Ortiz, gerente geral do laboratório, admite que testes são realizados, mas nega maus tratos e afirma que o local segue as regras e tem certificação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Também ao G1, Marcelo Marcos Morales, coordenador do Concea e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que o laboratório era o “mais controlado, o mais ético e mais regular, com conhecimento internacional”. Ele também alerta sobre os cães que foram resgatados, pois foram criados em local livre de germes e o contato com o mundo externo pode levá-los ao óbito.

Dá para fazer testes sem crueldade?
Em 1959, William Russel e Rex Burch, cientistas ingleses, já se preocupavam com as condições e tratamentos oferecidos aos animais em laboratórios e realizaram um estudo sobre o tema. Dessa forma, eles criaram algumas normas que poderiam ser seguidas para que os animais não sofressem tanto. Assim, foram estabelecidos os “três Rs da experimentação animal”: Redução, Refinamento e Replacement (substituição).
No estudo, eles pediam que os experimentos fossem projetados da melhor forma para que o teste não precisasse ser refeito, poupando, assim, mais animais. O segundo ponto pedia para que os animais recebessem um tratamento adequado, para que a dor e o medo diminuíssem. O terceiro pedia a substituição dos animais sempre que fosse possível.
Naquela época, modelos virtuais não eram possíveis, então eles indicavam testes em plantas, micro-organismos e parasitas. Hoje, porém, a realidade tecnológica permite que cientistas substituam os seres vivos por simulações em computador, ou até por modelos criados in vitro.
Ray Greek, médico norte-americano contrário a testes em animais, disse, numa entrevista à Veja em 2010, que as pesquisas em animais não geram resultados construtivos e que o computador já poderia substitui-los, mesmo três anos atrás.
Não temos informações suficientes para criar 100% do corpo humano e isso não vai acontecer nos próximos 100 anos. Mas não precisamos de toda essa informação. O que precisamos é saber como e do que um receptor celular é constituído — isso já sabemos — e a partir daí podemos desenvolver, no computador, remédios baseados nas leis da química que se encaixem nesses receptores. Depois disso, a droga é testada em tecido humano e depois em seres humanos. Antes disso acontecer, contudo, muitos testes são feitos in vitro e em tecidos humanos até chegar em um voluntário humano.
Quase lá?
No começo de outubro, três cientistas levaram em conjunto o prêmio Nobel de Química por criar sistemas que conseguem simular processos químicos elaborados. O trabalho de Martin Karplus, Michael Levitt e Arieh Warshel permite, entre outras coisas, simular com precisão as reações químicas de drogas em seres vivos. Combinando física clássica e física quântica, o trio conseguiu desenvolver um sistema que mapeia milésimos de segundo de cada reação química. Dentre outras aplicações, é possível, com esses sistemas, que engenheiros farmacêuticos tirem muito mais dados do que outros tipos de pesquisa oferecem.

Ou seja: sim, a tecnologia existe, mas ela ainda é cara, pois exige um computador excepcional.
A notícia boa é que não é a única alternativa.
Células tronco embrionárias e soluções criadas em laboratório são realidades que garantem resultados próximos dos esperados em pessoas, já que o tecido é humano e não animal. Existem também modelos de tecido humano criado por empresas. Esses materiais são tão parecidos com a pele humana que o próprio governo norte-americano o utiliza em testes. Além, claro, da possibilidade de usar cadáveres doados ou restos de tecido humano, que podem vir de cirurgias. E, mais simples ainda, o microdosing é um teste direto em voluntários, mas com baixíssima dosagem. Dessa forma, as pesquisas podem ser avaliadas diretamente no corpo humano e sem maiores consequências.
Nem todos os especialistas concordam que a tecnologia já possa substituir o uso de animais. Mas o passo dado com a pesquisa vencedora do Nobel é outro grande salto para a ciência e para o fim desse tipo de testes. Quem sabe, em alguns anos, não tenhamos alguma atualização da Lei de 1979 propondo benefícios para laboratórios que substituírem parcial, ou inteiramente o uso de animais por modelos virtuais ou in vitro?